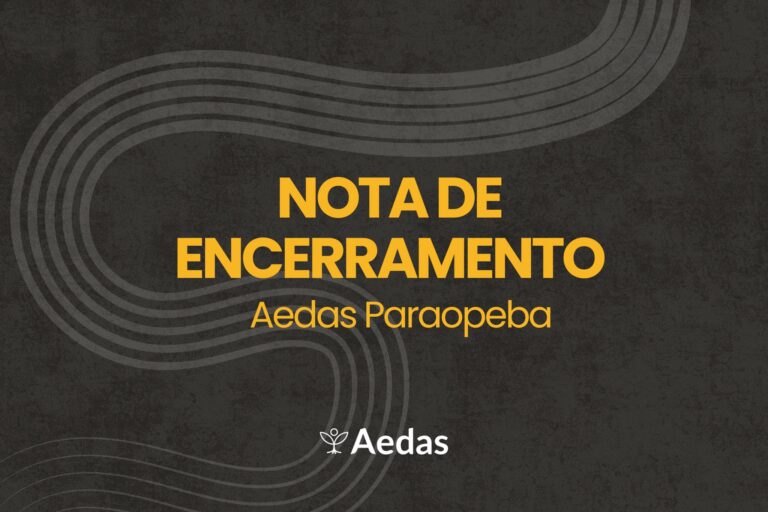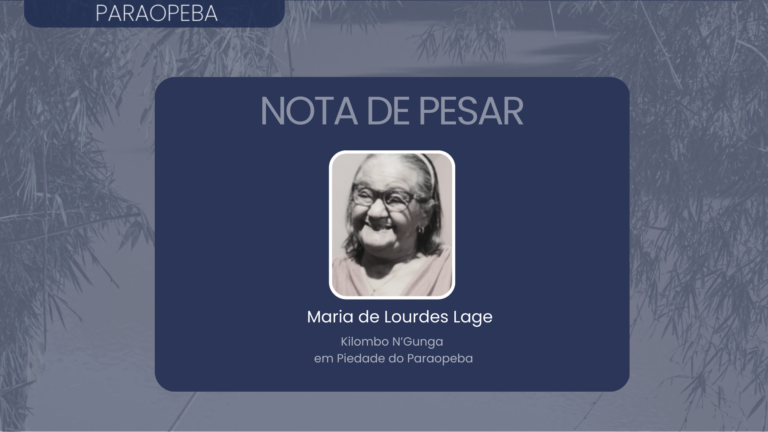Artigo elaborado pela equipe de PCTs da Aedas Paraopeba trata da relação entre a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais

O cultivo da terra é uma das práticas humanas mais antigas e, ao longo do tempo, foi adaptada por seus diferentes grupos, tendo um histórico de categorias e conceitos, entre elas a de agricultor e agricultora familiar. Categoria que demandou e foi norte, a partir do seu engajamento e lutas por direitos, para a criação de políticas públicas para promover suas práticas que tornam a agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros.
A agricultura familiar é uma ocupação profissional e, também, modo de produção que gera alimentos tradicionais, nutritivos e diversificados, para comercialização de excedentes em mercados institucionais, circuitos curtos de comercialização, mercados locais, feiras ou porta a porta), e o autoabastecimento das famílias. Para além de permitir a conservação dos recursos naturais e da agrobiodiversidade, impulsiona a economia local e possibilita o combate à fome e à pobreza. (TARRAFA, FILIPE e PACHECO 2018, p. 12) Agricultoras(es), camponesas(es), comunidades rurais, comunidades rurais negras, são várias as categorias que compõe o universo sociocultural no meio rural, assim como as práticas tradicionais de agricultura, que tem o cultivo de algumas culturas como mandioca e milho, considerados patrimônio e segurança alimentar para diversos povos e comunidades. Assim, é na prática da agricultura tradicional que agricultores familiares e Povos e Comunidades Tradicionais tem suas aproximações, mas também suas diferenças, já que entre aquelas e aqueles identificados como agricultores familiares há um destaque para dimensão produtiva e socioeconômica, enquanto os Povos e Comunidades Tradicionais caracterizam-se por suas relações com o território em dimensões socioculturais coletivas, marcadas por formas diferenciadas de vida e compreensões
do mundo.
O Sistema Agrícola Tradicional (SAT) pode ser definido como um conjunto estruturado, que é formado por elementos interdependentes: plantas cultivadas e criação de animais, redes sociais, artefatos, sistemas alimentares, saberes, normas, direitos e outras manifestações associadas. Esses elementos envolvem espaços e agroecossistemas manejados, formas de transformação dos produtos agrícolas e cultura material e imaterial associada, bem como sistemas alimentares locais que interagem e resultam na agricultura, na pecuária e no extrativismo. (Coleção Povos e Comunidades Tradicionais, ed.01, vl 03, 2019, p.23)
O modelo familiar de agricultura caracteriza-se a partir da relação íntima entre o trabalho e a gestão, da direção do processo produtivo, da ênfase na diversificação, na durabilidade e preservação dos recursos e da utilização de trabalho familiar e coletivo, no meio rural e urbano, para além da unidade de produção individual (IPEA, 2015).
A agricultura familiar é composta por uma série de conhecimentos tradicionais associados, que podem ser reproduzidos e difundidos como alternativa para um modelo de produção agrícola viável econômica, social e ambientalmente. Pois busca soluções de menores impactos ambientais, com uma agricultura sustentável, em menores escalas e diversificada, como forma de promover justiça social e dignidade. Os povos e comunidades tradicionais, ao desenvolverem o modelo de agricultura familiar, garantem a construção, manutenção e inovação de diversas técnicas e tecnologias no aproveitamento dos recursos naturais disponíveis e tradicionalmente utilizados no cultivo, manejo, produção, beneficiamento e comercialização de uma vasta produção rural.
Os sistemas agrícolas familiares possibilitam aumentar o bem-estar econômico, preservação ambiental e fortalecimento dos valores sociais dos produtores e produtoras no espaço rural. Mantendo e estimulando as relações das áreas cultivadas com os agentes naturais de sua região e território (ALTIERI, 2004).
Para pensarmos além da produção, é necessário admitir as várias funções [multifuncionalidade] e analisar a interação entre famílias e territórios na dinâmica de reprodução social. Essa dimensão é essencial na relação entre agricultura familiar e território. Essa relação tem caráter intersetorial, embora a agricultura permaneça como o setor econômico mais relevante. Mas não se resume aos setores produtivos, pois, enquanto unidades familiares, demandam uma série de serviços públicos e privados, como educação, saúde, transporte, higiene pessoal, lazer etc., que faz com que a própria reprodução social da agricultura familiar gere uma série de oportunidades para a dinamização do ambiente socioeconômico local. O rural, sob essa perspectiva, deixa de ser visto apenas como um espaço ou fator de produção agrícola, passando a ser visto como um macroorganismo social, complexo e fortemente imbricado ao território por meio de suas relações de trabalho, produção, consumo e, acrescentamos, cultura. (IPEA, 2015).
Nesse contexto, é possível apontar aproximações entre as duas categorias, especialmente pela relação intrínseca com as práticas tradicionais agrícolas dos Povos e Comunidades Tradicionais, que vem sendo incluídos e considerados em políticas para a Agricultura Familiar.
Podemos caracterizar, também, a agricultura familiar a partir de alguns elementos apresentados na Lei nº 11.326/60 que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Essa lei define agricultor e agricultura familiar e empreendedor/a familiar rural aquele/aquela que pratica atividade agrária e que:
- Tenha uma área igual ou menor a 4 módulos fiscais. Essa dimensão não é válida para condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração de cada proprietário/a não ultrapasse 4 módulos fiscais. Essa dimensão também não se aplica a extrativistas, pescadores, povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais;
- Use, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;
- Obtenha, no mínimo, metade da renda originada de atividades econômicas de seu estabelecimento ou empreendimento;
- A gestão do estabelecimento ou do empreendimento seja estritamente familiar.
Segundo a Lei nº. 11.326/06, também são agricultores e agricultoras familiares:
- Extrativistas, exceto garimpeiros e faiscadores; Pescadores artesanais; Povos indígenas; Integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos de comunidades tradicionais;
- Silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;
- Aquicultores que explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2 hectares ou ocupem até 500 m³ de água quando a exploração ocorre em tanques-redes;
- Incluem, ainda, nesse universo de agricultores/as familiares os Assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária, ou seja, agricultores e agricultoras que possuem um lote ou gleba, cedido pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) ou por um órgão estadual, como o Itesp (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo) no caso do estado de São Paulo; e Beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, ou seja, agricultoras e agriculturas que tiveram acesso à terra, a sua propriedade, via financiamento do governo federal.
Destacamos ainda a inserção de agricultores e agricultoras familiares, e também Povos e Comunidades Tradicionais, no rol de Grupos Específicos e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que categoriza a inserção destes em sistemas como o Cadastro Único (CadUnico), o que lhes garante acessos a diversas políticas sociais e econômicas.
A Lei 12.188 que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER), insere nessa política os Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos; e em seu Artigo 5° define que são beneficiários da PNATER:
I – os assentados da reforma agrária, os povos indígenas, os remanescentes de quilombos e os demais povos e comunidades tradicionais; e
II – nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, os agricultores familiares ou empreendimentos familiares rurais, os silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores, bem como os beneficiários de programas de colonização e irrigação enquadrados nos limites daquela Lei.
A partir de leis como as mencionadas, é possível ainda ressaltar que há um reconhecimento e inserção dos Povos e Comunidades Tradicionais em políticas da Agricultura Familiar, e nessa esteira, citamos ainda nota técnica, publicada recentemente, em 05 de outubro de 2023, que recomendou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atualizasse a documentação a ser exigida de fornecedores integrantes de povos e comunidades tradicionais, retirando a obrigatoriedade da Declaração de Aptidão para o Pronaf (DAP) e Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) para as aquisições de produtos da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Autoria do Texto: Adriana Mendes, Antonio Sampaio, Diego Germano, Janaína Moscal
REFERÊNCIAS:
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 4º edição – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) – http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4162/1/td_2076.pdf
SISTEMA AGRÍCOLA TRADICIONAL (SAT) – Coleção Povos e Comunidades Tradicionais, ed.01, vl 03, 2019, p.23. Disponível em: Colecao Povos e Comunidades Tradicionais Ed 01 Vol 03 PDF | PDF | Organizações de alimentos e agricultura | Brasil (scribd.com)
TARRAFA, Laura, FILIPE, Cláudia e PACHECO, José M. Cadernos técnicos: Modelos Tradicionais e Agricultura Sustentável. Lisboa, 2018. Disponível em
www.inforcna.pt/Media/Files/2017830_AtVt80Maijun2017.pdf.